“O reconhecimento, pelo Concílio Vaticano II, do direito à liberdade religiosa foi um acontecimento considerável, pois rompeu com o ensinamento tradicional, especialmente os escritos dos Padres da Igreja, e chocou o bom senso.”

Na véspera de seu encerramento, em 7 de dezembro de 1965, o Vaticano II reconhecia o direito à liberdade religiosa na declaração Dignitatis humanæ. A discussão foi difícil, pois a liberdade religiosa alterava o conceito católico das relações Igreja-Estado e da tolerância aos erros religiosos. O dogma de Cristo Rei, reafirmado na encíclica Quas Primas de Pio XII, em 1925, e a condenação da liberdade religiosa por Pio IX, na encíclica Quanta Cura, em 1854, eram revistos e corrigidos: doravante, a Igreja não reclamaria mais aos Estados católicos a proteção pública para si e a proibição dos outros cultos.
Consequentemente, após o concílio, a Santa Sé mandou alterar as concordatas, como, por exemplo, em 1967, aquela que unia a Espanha de Franco à Igreja, e que tinha sido adotada sob Pio XII, em 1953. “A profissão e a prática, tanto pública quanto privada, de qualquer religião serão garantidas pelo Estado” substitui “Ninguém será perturbado por suas crenças religiosas, nem pelo exercício privado de seu culto. Não se autorizará outras cerimônias, nem outras manifestações exteriores senão aquelas da religião católica.”
Seria um progresso? Na verdade, é o contrário. Longe de ser uma conquista da civilização cristã, a liberdade religiosa é um “delírio” (de acordo com a expressão de Gregório XVI, ao condenar, pela encíclica Mirari vos, de 16 de agosto de 1832, “a Igreja livre em um Estado livre” de Lamennais). Esse “delírio” é inseparável do laicismo, que se baseia no racionalismo: à razão humana, soberana na ordem do pensamento, corresponde uma liberdade soberana da vontade humana na ordem do agir, o que conduz à rejeição de qualquer autoridade e da moral. No final das contas, isso equivale ao anarquismo do “nem Deus, nem mestre”. Com as demais liberdades contemporâneas, de consciência, de imprensa ou de expressão, a liberdade religiosa torna os povos ingovernáveis. Ela se impõe como uma das mais graves “liberdades de perdição” denunciadas por Leão XIII na encíclica Libertas præstantissimum.
Portanto, se olharmos bem, a liberdade religiosa se opõe não somente ao dogma católico, mas também aos princípios da ordem política natural. É por isso que, no artigo adiante, a questão será examinada destes dois modos: inicialmente, pela razão natural, depois, sob a luz da fé sobrenatural.
UM “DELÍRIO” AOS OLHOS DA RAZÃO
De acordo com a doutrina moderna, a liberdade religiosa é uma liberdade subjetiva. Ela constitui o apanágio de cada pessoa, que não pode ser forçada, em matéria de crença e de prática religiosa. Essa liberdade deve ser reconhecida nas legislações dos países: os Estados não têm o direito de constranger o exercício dos cultos, exceto se esse exercício provocar imoralidade e desordem no domínio público. Esse direito é natural e, portanto, permanente, absoluto e universal (para toda pessoa, em toda sociedade e para todas as épocas). É, em uma palavra, um direito do homem que deve ser garantido pelo Estado.
A consequência dessa doutrina é que a liberdade da pessoa humana em matéria religiosa não pode se curvar sob nada: a pessoa mantém sua independência total de escolha e de ação religiosa na sociedade.
Essa concepção da liberdade esquece que o homem-indivíduo (ou singular) é também social – “animal político”, diz Aristóteles – e faz, naturalmente, parte de um todo, de uma sociedade. Inicialmente, o homem nasce em uma família, a sociedade familiar. Depois, em cada época de sua vida, o homem é naturalmente levado a se agregar a múltiplas sociedades que o unem a outrem. Há, em primeiro lugar, a cidade ou sociedade política dirigida por um Estado. Em seguida, há a unidade constituída por todos os homens da terra, a comunidade universal, que poderemos chamar de uma sociedade divina natural. Enfim, se for católico, ele também será membro da Igreja, que é, ela mesma, uma sociedade, desta vez sobrenatural. No final das contas, ampliando, assim, seu olhar, Júlio Meinvielle escreve que “na pessoa singular devemos distinguir cinco aspectos, especificados por cinco bens diferentes: o aspecto propriamente singular, o familiar, o político, o divino natural e o divino sobrenatural” (Crítica do conceito de Maritain sobre a pessoa humana). O que significa, aliás, a expressão “especificados por cinco bens”? Simplesmente que cada sociedade se distingue uma da outra pela coleção dos benefícios específicos que ela oferece a cada um de seus membros. Quando um homem é agregado a uma ou a outra destas sociedades, ele tem acesso a essa coleção que chamam então de “bem comum”. O bem comum obtido pela família a cada pessoa singular, por exemplo, não é o mesmo daquele que lhe proporciona a Igreja.

Leão XIII: a liberdade religiosa é uma “liberdade de perdição”
Ora, esses bens são obtidos por uma ação comum que o obriga a seguir a vontade da sociedade: a unidade de ação entre os diversos membros o exige. Da vida em sociedade nascem as leis que constrangem a independência do homem: bem-aventurada obrigação pelo bem maior de todos! Ora, “cada um destes aspectos, ou destes bens, é subordinado àquele que lhe é imediatamente superior, assim, o bem singular propriamente dito se subordina ao bem da pessoa singular enquanto membro da família; ambos, ao bem da pessoa singular enquanto membro da sociedade política, (…) da comunidade universal, (…) da comunidade sobrenatural, que é a Igreja”. Quanto mais os bens são superiores, mais eles são obras de uma sociedade perfeita, e exigem que a liberdade se curve às necessidades do bem comum. Se, às vezes, o Estado exige o sacrifício de sua vida, Cristo o exige, de algum modo, continuamente, amando Deus acima de tudo, inclusive a si mesmo. O homem em sociedade sacrifica sua liberdade pessoal para aderir à ordem social (ordem nos dois sentidos do termo: mandamento e orientação para o bem a se obter). Após uma advertência, a vontade individual que se recusasse a manter seu lugar no seio do todo seria removida dessa sociedade: os desertores são fuzilados.
Assim, vê-se que, longe de não poder ser submetida, a liberdade pessoal deve se inclinar para que seres inferiores obtenham os bens superiores que os transcendem (São Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 65, a.2). Ninguém obteve sozinho a vitória de Verdun, mas todos a conquistaram, cada um à sua medida.
EXCETO A RELIGIÃO?
Contudo, uma objeção surge naturalmente: a necessidade da obediência da liberdade pessoal, se vale na família ou na cidade, também envolve a religião? Com efeito, o homem tem um destino que transcende a família e a cidade: membro do universo (comunidade universal), ele recebe bens divinos naturais do céu e da terra; além disso, a ordem sobrenatural o faz gozar de Deus face a face. Esses bens lhes são próprios e ultrapassam a sociedade política: então, como ela poderia constrangê-lo? Ainda mais porque a religião é de competência da Igreja, e não do Estado, e isso para evitar a confusão entre os poderes. Logo, pareceria que o Estado não possa discernir entre a verdadeira e falsa religião, que ele não tem o direito de favorecer uma e constranger as outras. Incompetente em matéria espiritual, ele (o Estado) não deve deixar os homens livres para escolher e praticar seu culto?
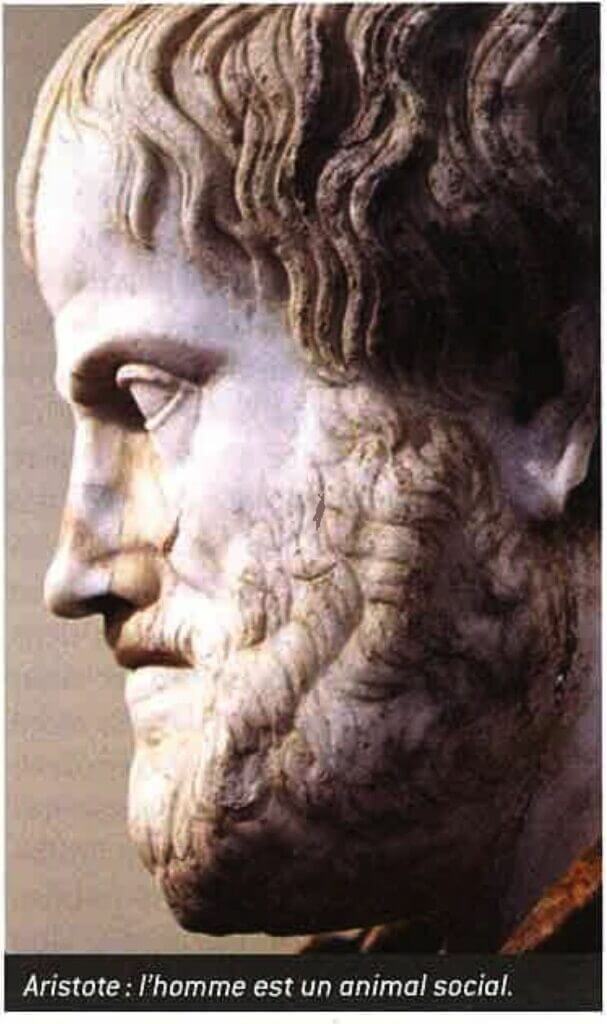
Respondamos essa objeção. É verdade que o benefício último da religião torna bem-aventurado o espírito humano, mas ele só alcança isso na vida eterna. Aqui na terra, a religião olha o homem da mesma forma, quer o considerem na ordem privada (singular ou familiar) e pública (cidade). Ora, se os atos do cidadão dizem respeito ao domínio público, a autoridade política pode julgá-los, corrigi-los e dirigi-los em função do bem comum. Assim, a religião tem um duplo propósito:
1. Ela honra Deus como chefe e providência de todas as coisas – primeira causa e ordenador universal, diria Aristóteles. A autoridade divina se estende, portanto, sobre os homens e sobre as sociedades, ápices das obras humanas: Deus se interessa pelos homens que vivem em grupo; em troca, estes lhe manifestam submissão e gratidão.
2. A religião também é uma obra de justiça de cada homem que presta um culto a Deus pelo louvor e por todos os seus atos: a moral entra na religião – as sanções e as recompensas eternas que ela promete não fazem pouco pelo respeito das leis e dos bons costumes. Isso autoriza o Estado a legislar para que o cidadão seja bom fiel de Deus. A religião é, em uma palavra, uma parte do bem comum da cidade.
Assim, a liberdade religiosa é causa de injustiça no domínio político, pois ela retira do Estado um domínio legítimo de ação, e amputa gravemente esse bem comum (1).

UMA IMPIEDADE AOS OLHOS DA FÉ
Após ter refutado a liberdade religiosa graças à simples razão natural, precisamos recordar o que diz sobre ela a fé católica, e, consequentemente, a Igreja.
A liberdade religiosa é, por vezes, apresentada como uma invenção cristã: os Padres da Igreja a teriam solicitado inicialmente aos imperadores perseguidores dos primeiros séculos de nossa era, depois aos imperadores cristãos seguintes. Eles teriam desaprovado a proibição dos cultos pagãos, heréticos e judeus pronunciada pelas autoridades civis. A união da Igreja e dos Estados, sobretudo na era medieval, como no império de Carlos Magno, seria abusiva, afastando-se do Evangelho e da Tradição cristã primitiva. O que pensar desta teoria?
Conforme as profecias – “sobre o trono de Davi” (Is 9, 6-7), “ele reinará sobre a terra” (Jr 23, 5)… Jesus Cristo afirmou seu poder real na cidade: “Sou rei” (Jo 18, 37), tendo todo o poder sobre a terra (Mt 28, 18)… Os apóstolos confirmam: “Ele deve reinar sobre seus inimigos” (1 Co 15, 25), “Rei dos reis e Senhor dos senhores” (Ap 1, 5). O que os Pais da Igreja deduzem de tais afirmações?
Aqueles dos primeiros séculos insistem, certamente, sobre a liberdade do ato de fé, “espontâneo e vindo do fundo do coração” (Orígenes, Contra Celso, V, 20, 7), mas reconhecem ao Estado o direito de forçar exteriormente a profissão de tal crença, ou de impedir tal culto: ele pode orientar a escolha religiosa das almas.

Antes da paz da Igreja (313), os Padres preconizaram a coação em matéria religiosa: São Cipriano e Orígenes colocam os dissidentes para fora “da casa de Deus, que é una”, pois “a salvação não pode estar em ninguém, exceto na Igreja” (epístola IV, 4, 2-3; Contra Celso, VII, 22). Para seu culto, os apologistas do século dois reclamam o reconhecimento oficial do Estado (Tertuliano, Apologética XLIV, 3; Arnóbio de Sicca, Advenus nationes, I, 65…) a exemplo dos cultos pagãos.
Com efeito, a liberdade religiosa não existia naquele tempo: é preciso honrar os chamados di próprios (“deus próprios”) de sua cidade e os di comuns (“deuses comuns”) do império (Júpiter, Juno, Minerva). Se os deuses são múltiplos, eles não são, todavia de “livre acesso”, pois o Estado decide a admissibilidade dos cultos públicos e “a título privado” (Cicero, De Legibus, II, 8, 19-22). Essa autoridade cultual do Estado que zela pelas religiões garante a pax deorum, “paz com os deuses”. Assim, as leis civis reprimem o ateísmo ímpio e proíbem os santuários “selvagens”, ou seja, erigidos sem permissão (Platão, Leis, X, 908-910). “Ninguém deveria ter seus próprios deuses, ou deuses estrangeiros, se não fossem reconhecidos pelo Estado” explica Cícero (Das leis, II, 8, 19).
Os apologistas católicos até mesmo expuseram os vínculos entre a Igreja e o império, que é ministro de Deus, pois fundado por ele. Segue-se que os cristãos honram o imperador (Clemente de Roma, Aos Coríntios, LXX-LXII; Orígenes, Sobre os romanos, IX, 23, 26 e Contra Celso, VIII, 68) e colaboram com ele em nome do “dai a César, dai a Deus” (Mt 22, 21). Essa colaboração facilita a evangelização do mundo (Orígenes, Contra Celso, III, 29 e VIII, 68); Assim, Roma durará para sempre para sustentar a Igreja (Tertuliano, Ad Scapulam, II). Os cristãos ignoram, portanto, a liberdade de consciência religiosa, assim como toda a Antiguidade.
Desde o fim das perseguições, as relações Igreja-Estado são esclarecidas: dois dos mais prestigiosos doutores da Igreja recusam qualquer liberdade religiosa.
SANTO AMBRÓSIO E SANTO AGOSTINHO
Depois de 313, os imperadores Constantino e Licínio inauguram uma política tão favorável ao cristianismo que o arsenal legislativo que se segue é único na história das relações da Igreja e dos Estados. Certamente, a teologia política de Constantino – Pontifex maximus (Sumo Pontífice) de todos os cultos – se parece com a teocracia do Antigo Testamento e se fundamenta sobre o direito romano: “O poder público (é aplicado) sobre as coisas sagradas, os sacerdotes, os magistrados” (Ulpiano, Institutos, I, 1, § 2). Ele intervém a contratempo em matéria de arianismo. Contudo, o imperador repara de modo favorável as estruturas eclesiásticas insuficientes diante dos perigos heréticos e pagãos.
A transformação em império cristão é realizada por Graciano (paganismo de Estado supresso em 383), “muralha da fé católica, que em vós é viva” (Ambrósio, De fide ad Gratianum, XVI, 139). Teodósio reconhece a fé do papa Dámaso (edito de Tessalônica, em 380, Concílio de Constantinopla, em maio de 381), as reuniões heréticas são proibidas (editos de 382 a 384), o paganismo proscrito (edito de Milão, 24 de fevereiro de 391), assim como os cultos privados aos deuses domésticos, em 8 de novembro de 392 (Código Teodosiano, XVI, 10, 10-12).
Santo Ambrósio estabelece, então, as duas condições de uma Igreja de Estado: a verdade religiosa revelada é o princípio superior da cidade; a independência do clero é sua garantia indispensável. Consequentemente, a lei da Igreja é integrada à legislação civil (cânones dos concílios de Niceia, Rimini, Constantinopla, Éfeso, condenação de Êuticos sob Marciano) e o imperador é submisso à Igreja – Imperator intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam (“O imperador está na Igreja e não acima dela”, Contra Auxêncio, 36) – assim como o poder temporal o é ao poder espiritual ratione peccati (“em razão do pecado original”). É uma revolução jurídica. Ambrósio irá até mesmo impôr uma penitência a Teodósio pelas graves faltas públicas “do imperador cristianíssimo” (Epístolae, I, 1).
Ao mesmo tempo, pratica-se a tolerância que permite aos Godos serem homeistas (tipo de arianismo atenuado), aceitando as igrejas arianas fora dos muros da cidade. Ambrósio pede a graça do herege Prisciliano… Contudo, isso não é liberdade religiosa, pois o princípio do pagão Godêncio – “Os homens não devem ser levados involuntariamente à verdade” (Agostinho, Contra Gaudentium, I, 25) – é condenado por Ambrósio: ele compreendeu que a perenidade da civilização romana dependeria do exclusivismo concedido à religião católica pelo Estado imperial.
Após Ambrósio, Agostinho testemunha o uso da força para resolver o cisma donatista da África. No fim do século III, os donatistas tinham deixado a Igreja em nome da pureza da fé. Por volta do ano 400, eles tinham 300 bispos na África. Apesar disso, temendo gerar “católicos falsos e simulados”, Santo Agostinho reprova a coação, salvo em caso de desordens públicas (epístola 185 ao conde Bonifácio, vu, 25). Sua posição é muito próxima do Vaticano II.
Contudo, no Concílio de Cartago, de junho de 407, ele solicita a polícia contra eles. Por quê?
De um lado, porque a revelação divina permitiu aos reis Ezequias e Joas destruírem santuários idolatras, a Dario de entregar aos leões os inimigos de Daniel, a Nabucodonosor de legislar contra os blasfemadores (ibidem, V, 19), ao rei de Nínive de exigir penitência a todos. Jesus obriga a entrar no banquete de núpcias: “Quando vos parecer que não se deve constranger os homens a receberem a verdade involuntariamente, estais enganados e não conheceis as Escrituras, nem a virtude de Deus, que os torna dispostos após tê-los constrangido.” (Contra. Gaudentium, I, 25, nº 28).
Agostinho constatou, por outro lado, “tudo o que um sábio rigor poderia fazer por sua conversão” (Retractationes II, 5). Aqueles que eram impedidos de se unir à Igreja por medo das violências ou de seus próximos “passaram imediatamente à Igreja de Jesus Cristo”. Estes que eram mantidos no cisma por tradição familiar puderam estudar o donatismo e não encontraram “nada que pudesse compensar os danos e as penas às quais eles se expunham” ao permanecer nele: eles se fizeram cristãos. Estes exemplos atraíram muitos que, incapazes de julgar por si mesmos, os imitaram. Uma quarta categoria, a dos hereges obstinados, fingiu a conversão depois, “acostumando-se pouco a pouco com as nossas práticas salutares, e de tanto ouvir a pregação da palavra de verdade”, se converteu sinceramente. A coerção foi favorável aos católicos, pois “a fé era solidamente estabelecida quando as leis dos imperadores forçavam todos os homens a seguir a religião católica”: eles davam graças pelas conversões operadas. Quanto aos irredutíveis, quanto mais violentos, mais o fervor dos católicos se tornava intenso para ganhá-los (epístola 185, VI, 25 e 31).
Para Agostinho, o argumento fundamental é a salvação eterna do herege (Contra litterae Petiliani, II, 43). Ao conjunto de uma eternidade de castigos, as penas temporais são ínfimas e a coerção relativizada. Há muitas vantagens aqui: “O temor dos castigos (temporais)… ao menos predem os maus desejos nas barreiras do pensamento” (ibidem, 83, nº 184): “a restrição exterior fará nascer a vontade interior” (sermão exil, 7, nº 8), “inicia-se pelo medo e progride-se até o amor, e o Senhor concede a paz” (Contra Gaudentium, I, 12, nº 13).
Agostinho é forçado, portanto, a reconhecer “a misericórdia de Deus, que sabia que o terror das leis e alguns castigos seriam um remédio necessário para curar a perversidade ou a tibieza de muitos, e que a dureza de coração que resiste às exortações cede a uma justa e severa disciplina” (epístola 185, VI, 26).

Logo, conclui assim: “Por que, assim como os boníssimos costumes são escolhidos pela livre vontade, os maus não seriam punidos pela integridade da lei?… Portanto, ainda que tenham sido criadas algumas leis contra ti, elas não te forçam a agir corretamente, mas te impedem de agir mal; Pois não se pode fazer o bem senão pela escolha, pelo amor…” (Contra litterae Petilliani, II, 83, nº 184) Santo Agostinho estabeleceu os fundamentos da cidade de Deus, da qual a coerção religiosa foi um vetor essencial.
Assim, e para concluir, desde a mais remota Antiguidade cristã, Cristo pôde reinar sobre as sociedades políticas, conforme a palavra de Teodósio II no Concílio de Éfeso, em 431: “A Igreja e o Estado formam não mais que um todo, e, sobre nossa ordem, e com a ajuda de nosso Deus e Salvador, eles estarão constantemente mais unidos”.
Pe. Nicolas Portail, FSSPX
Nota:nicolas
(1) Às vezes insistem propondo uma nova fórmula à mesma objeção: a hierarquia dos bens subordina a política à teodiceia, pois o monástico (vida do homem como indivíduo), o doméstico e o político – todos os três domínios do Estado – dependem da ética, enquanto a dimensão religiosa nasce da teologia natural (uma parte da metafísica) e sobrenatural. O estado não sendo competente aí. Porém, São Tomás nota que somente os sábios, já perfeitos nesta vida pela contemplação de Deus, estão acima da política: eles são raríssimos, em uma vida solitária quase divina, pois se devotam totalmente às coisas de Deus “isso está acima do homem” (Suma teológica, II-II, q. 188, ª ). Mesmo São Bruno, fundador dos “cartuxos”, não encontrou nada melhor par salvaguardar a vida eremítica senão uma regra religiosa de vida comum… Assim, o homem, em sua dimensão religiosa, não pode escapar da sociedade política, da qual ele ainda é membro pela necessidade humildemente humana. A doutrina da liberdade religiosa é de uma louca pretensão: ela leva a crer que todo homem está em estado de perfeição religiosa por natureza… antes sequer de ter escolhido o menor exercício espiritual. Finalmente, ela amplifica o pecado original e conduz ao mesmo resultado as sociedades que a preconizam…
Fonte: La Porte Latine – Tradução: Dominus Est
Nenhum comentário:
Postar um comentário